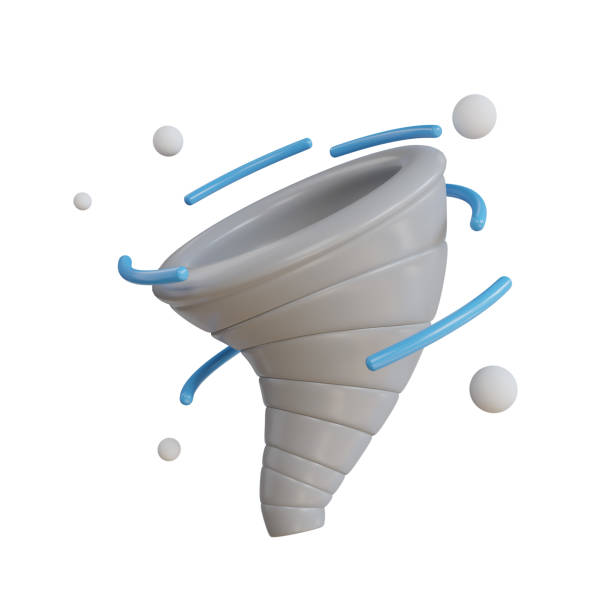ANTONIO CONTENTE
Quase um tornado
Da janela da casa numa vilazinha distante da ilha onde possuo meu casebre, aqui no Delta do Rio Amazonas, vi, ao longe, sobre a baía imensa, a nuvem negra. Era uma massa aparentemente compacta, que começou a ser tanto mais amedrontadora no instante em que percebi que nos envolvia uma grande, uma desconfortável calmaria.
Aprendi, nas minhas muitas andanças pelo litoral da Amazônia, que nuvens negras e falta de vento, com El Niño ou sem ele, significam tempestade, na certa. Ainda mais que as ondas na superfície eram alongadas na horizontal, fortes, sem cristas.
As chuvas, nesta região, transcendem à possibilidade de serem ou não úteis como fenômenos meteorológicos. Não servem, por exemplo, para encher represas até porque, aqui, elas não existem — a única se encontra na longínqua região de Tucuruí, no Sul do Estado.
E se, de alguma forma, temporais engordam os cursos de riachos e igarapés, é tal a quantidade deles em torno de nós que nunca ligamos sua perenidade, ou não, aos aguaceiros que de repente pintam, como o que vinha vindo com nada lúdica feição. Em resumo acho que as chuvas, ali, são superiores instantes mágicos em que a natureza se limpa e se eterniza.
Desço para a praia no momento em que a nuvem havia escurecido a metade da enseada. A ventania, que certamente viria no instante em que a chuva começasse a cair já soprava, agitando as palmas dos coqueiros e mexendo os galhos da floresta próxima. Me dirigi ao botequinho no acolhedor Porto dos Pescadores.
Assim que me vê o dono do, se podemos chamar assim, estabelecimento, retira, da geladeira movida a querosene, uma cerveja delicadamente gelada. Enchendo o copo sem conter o colarinho alto, puxo conversa:
— Tempinho feio, não é mesmo?
Ele respondeu com um franzir de rosto e um “hum, hum”, enquanto saia pela porta da frente. Levantei e o vi se dirigindo para o ancoradouro, onde passou a reforçar a amarra de um barquinho. No que volta, insisto:
— Tempo ruinzinho, você não acha?
— Chuva de começo de inverno – ele respondeu de forma até loquaz, comparando com o “hum, hum” anterior.
— Você amarrou a embarcação porque ela poderia se soltar, é isso?
— É – ele tornou.
Disposto a dialogar, vou em frente:
— Uma ventania como a que parece estar chegando bem que poderia arrancar alguns coqueiros, não é?
No que completo a pergunta, estala um desses trovões que a gente só imagina possíveis em velhos filmes sobre furacões nas Ilhas dos Mares do Sul. Imediatamente o vendeiro se benze e, com insuspeitada agilidade, pega um pano para cobrir o velho e meio desbotado espelho com um antigo reclame do “Phymatosan”. Diante do gesto confesso que não senti exatamente medo, mas, digamos assim, certa preocupação. É que os espelhos, acreditam os nativos, atrairiam faíscas.
— Raio? – Aponto para fora.
— Acho melhor o senhor ficar longe da porta – indica cadeira num canto, ao lado de um bilharito.
Agora percebo um velho e sarnento cachorro que se esconde sob a mesa. Passando como uma faísca, um gato se enfurna pelos vãos da palha da parede enquanto, pela janela, avisto galinhas e patos que corriam, atarantados, buscando abrigos no terreiro batido pelo vendaval.
O homem senta e era tal o tom de gravidade que havia em sua expressão, que não só desisti de tentar retomar algum diálogo, como segurei as pontas do desejo de pedir outra cerveja. Nessa altura dos acontecimentos os bagos da chuva, gordos, enormes, começavam a bater na palhoça que nos cobria.
Em torno nenhum, absolutamente nenhum outro barulho que não fossem os gerados pela tempestade: o quase mar quebrando, a ventania uivando nas frinchas, e os trovões com clarões de raios certamente tirados dos tais filmes de antigamente.
Meio à medo, levantei e fui à porta. O dono do boteco, no seu canto, me fuzilou com o olhar, porém fiz que não notei. Para os lados da enseada não se enxergava nada que não fosse a compacta parede de água que caia. Num primeiro plano a chuva parecia tanta, que o próprio vento forte era incapaz de abrir a massa líquida.
Com novo raio que explodiu nas cercanias, voltei para o meu cantinho e, à falta de outra coisa, esperei. Nisso, com a mesma rapidez com que começou, o vento parou. A intensidade do aguaceiro idem. No instante em que estourou no ar, como bom presságio, o canto do primeiro bem-te-vi e o chilro da primeira pipira, o dono da venda pareceu despertar. Veio a mim e perguntou com surpreendente, para seu estilo, loquacidade:
— Quer mais uma cerveja?
Levantei o polegar, fui servido, e, logo, ergui o copo para um grande gole. Depois saí e, descalço, andei sobre a areia molhada em frente ao Porto dos Pescadores.
Os bem-te-vis, agora, cantavam pôr todos os lados, e, às pipiras, juntaram-se os suís. Do céu, azul e lavado, vinha um cheiro bom de mundo limpo. Vendo grande pedra sob um coqueiro, sentei. Alongando a vista sobre o horizonte da baía fui, simplesmente, feliz.
ANTONIO CONTENTE – Jornalista, cronista, escritor, várias obras publicadas. Entre elas, O Lobisomem Cantador, Um Doido no Quarteirão.